( It Happened One Night, EUA, 1934 )
Direção de Frank Capra, com Clark Gable, Claudette Colbert, Walter Connolly, Roscoe Karns
 “Por favor, tire essas... coisas... de cima da muralha de Jericó.”
“Por favor, tire essas... coisas... de cima da muralha de Jericó.”
Quando terminam os 105 minutos de “Aconteceu Naquela Noite” é extremamente difícil de acreditar que uma das obras-primas de Frank Capra tenha sido costurada com tanta dificuldade, desavenças e má vontade dos envolvidos. Enquanto Clark Gable entrou na produção a contragosto, emprestado pela MGM para puni-lo por sua recusa em aceitar seguidos roteiros da produtora, Claudette Colbert foi um misto de descontentamento e blasé durante as filmagens. A muito contragosto exibiu suas pernas na mais famosa cena do filme e, mesmo após receber o Oscar por sua interpretação, alfinetou que aquele teria sido o pior filme que já fizera. Muito difícil de entender tamanha rejeição por um filme que, do outro lado do processo, cativou ( e cativa ainda, passados mais de 70 anos ) tanto ao público. Mas que pese a facilidade com que a história, roteirizada por Robert Riskin, envolva o público com naturalidade, “Aconteceu Naquela Noite” é um marco por romper com certos parâmetros e dar uma sopro de frescor ao cinema americano na década de 30.
Colbert é a Ellen Andrews, filha de um milionário, rebelde devido aos mimos que sempre recebeu do pai, que foge quando ele a impede de se casar com um piloto, “um mero farsante” na opinião do seu pai. Gable é um jornalista recém-demitido e beberrão, que resolve transformar a milionária em fuga na grande história que o trará de volta ao topo. Enquanto os Estados Unidos procuram por Ellen, Peter, o jornalista, faz de tudo para mantê-la escondida, levando-a como um prêmio particular até Nova Iorque, onde ela pretende se encontrar com o noivo.
Em meio a uma época onde comédia se baseava em peripécias físicas e uma certa inoperância de espaços, Capra rodou o que pode ser considerado o primeiro road-movie da história do cinema. Saiu dos estúdios e levou seus atores para ambientes naturais dos mais variados, que fornecem à trama um constante sabor de novidade. Não teve medo do puritanismo da época e apimentou sua história com referências sexuais ao mostrar como duas pessoas tão diferentes acabam se aproximando, mudando conceitos e se apaixonando. Se o argumento é batido e tema de 10 comédias por ano atualmente, foi um impacto nas platéias de um país que ainda sofria com a recessão que começara 5 anos antes. E Capra, considerado o redentor da nação com suas comédias leves e estórias encorajadoras nos anos difíceis, não esquece disso em nenhum instante. Mesmo a cena com o menino faminto no ônibus, ainda que soando gratuita, mostra que havia a preocupação de fazer o público se enxergar na história de Ellen e Peter – o que já acontecia pelo simples fato de os personagens transitarem por meios comuns ao público da época: ônibus, hotéis de beira de estrada, postos de gasolina isolados e a intervenção de personagens típicos de um país em crise. Entre ladrões, aproveitadores ou pessoas mais preocupadas com o dinheiro, Ellen e Peter evoluem lentamente: ela para uma mulher menos mimada e conformada com sua situação, e ele para um típico bon-vivant que não consegue disfarçar seu coração mole.
Ainda que Capra não fosse um diretor de apuros visuais visíveis ao público, tem um domínio absoluto do espaço onde filma sua história. Transita entre vários ambientes mantendo o frescor da história, dominando a atuação de sua dupla de atores e nunca se sobressaindo a eles, deixando claro que o filme pertence a eles e o diretor, no caso, tem apenas a missão de conduzir essa história – e isso é impressionante sabendo que Gable e Capra começaram a rodar o filme sob forte tensão, e só aos poucos foram se aproximando. Ainda que sutilmente, o diretor consegue criar belos planos: um movimento de câmera acompanha a travessia de Ellen em um acampamento rumo ao banheiro enquanto ela cruza com diferentes pessoas de classes bem diferentes à que ela está acostumada a freqüentar. Em outra cena, acompanha o caminhar da dupla por uma estrada momentos antes da mais célebre cena de longe, colocando-os no centro da tela e localizando os dois no cenário de uma rodovia vazia, caminhando como duas pessoas perdidas, mas também com todo o tempo do mundo à disposição, ainda que com os pés doendo. E toda a seqüência em que Ellen descobre seus sentimentos por Peter são uma prova de porque Colbert ganhou o Oscar, ancorada por um belo jogo de sombras que a mostra de camisola, de costas, enquanto, por trás das “muralhas de Jericó” que separam o casal nos hotéis de beira de estrada vemos apenas a sombra de Gable refletida na parede.
Todo o vigor e o ritmo caem um pouco quando o filme se aproxima de seu final, mas Capra sempre gostou de passar boas mensagens ao público, e estórias envolvendo mal-entendidos são um prato cheio para comédias românticas. A screwball commedy que notabilizou o gênero nos anos 30 e 40 deve muito a “Aconteceu Naquela Noite”. Como comédia, consegue ser hilariante – a famosa cena da carona, inúmeras vezes imitada posteriormente, também reserva a mais engraçada cena do filme com o desespero de Gable por não conseguir uma carona – e como retrato de época, contundente: alterna a graça da guerra dos sexos e dos diálogos afiados com uma maturidade surpreendente por parte de seus atores. Não ganhou os cinco oscars principais ( filme, direção, roteiro, ator e atriz ) por mero capricho da Academia, nem conquistou o público e ( posteriormente ) a crítica devido aos prêmios. O meio social que envolve a história de Ellen e Peter e os microcosmos formados ao longo da trajetória de ambos – especialmente dentro do ônibus – deram combustível para Capra exercitar o desfile de caráter e moral que tanto bem faria ao povo americano em seus filmes posteriores. Nenhum deles, entretanto, com tanta maturidade e ritmo como aqui. E Colbert podia até preferir a Cleópatra que ela protagonizou no mesmo ano, mas estava errada: em uma profissão que dependia da paixão do público para manter suas estrelas, “Aconteceu Naquela Noite” foi o maior exemplo de como os caprichos do cinema às vezes podem acabar criando jóias inigualáveis.
(Witness for the Prosecution, EUA, 1957 )
Direção de Billy Wilder, com Charles Laughton, Marlene Dietrich, Tyrone Power, Elsa Lanchester
“ Que mulher notável...”
Que mulher notável...”
Nunca subestime um gênio, principalmente se o seu nome for Billy Wilder. O que ele faz com o espectador em “Testemunha de Acusação” é um jogo de enganação tão eficiente quanto é afiado seu humor ácido e sarcástico. Mesmo considerado um clássico, esta história de tribunal de 1957 é subestimada por alguns críticos – Ronald Bergman sequer o cita nas duas páginas dedicadas ao diretor em seu famoso guia de cinema, tampouco o cita entre os filmes que devem ser vistos do diretor austríaco. É uma falha a meu ver imperdoável, porque ele consegue, em 15 minutos, transformar um filme que aparentava ser repleto de falhas em uma trama memorável, justificando e enaltecendo o que, a princípio, pareciam ser erros notórios.
Baseado em um pequeno conto de Agatha Christie, a trama de “Testemunha de Acusação” é roteirizada pelo próprio Wilder. Quem conhece seus filmes e seu humor afiado reconhece sua participação no processo logo no primeiro diálogo. ( “Quer eu feche a janela sir Wilfrid?” “Por Deus mulher, quero que feche a sua boca. Se soubesse que falava tanto assim jamais teria saído do meu coma.”). O notável é que Wilder consegue transformar o que parecia ser uma base para o verdadeiro personagem do filme, o advogado doente interpretado brilhantemente por Charles Laughton ( também diretor de um único filme, o clássico “O Mensageiro do Diabo”), no ápice da trama em uma reviravolta surpreendente, sem soar forçado. O advogado de Laughton, sir Wilfrid, é contratado para defender um homem acusado de assassinar uma velha viúva para ficar com seu dinheiro. Seu único álibi é a esposa, Christine, que ele trouxe da Alemanha em tempos de guerra, mas que para Wilfrid e seu sócio é, na verdade, um obstáculo a inocentar seu cliente. Dizer mais da trama seria correr o risco de revelar aspectos importantes que prendem a atenção do espectador. Melhor é falar da habilidade de Wilder em transformar atores e personagens em uma marionete habilmente manejada.
“Mas aqui é a Inglaterra, onde pensei que pessoas inocentes nunca fossem presas e condenadas por crimes que não cometeram.”
“Bem, nós tentamos não tornar isso um hábito.”
Como de praxe, o grande mérito do diretor não são planos fabulosos, seqüências que entraram para a história do cinema ou experimentos narrativos. São os diálogos ( Wilder faz, em muitos momentos, quase um teatro filmado, com câmera estática ). E Laughton está particularmente à vontade recitando as pérolas de ironia, como uma navalha afiada respondendo a cada insinuação ou observação. Nada passa impune ao senso crítico e ao humor do famoso advogado. Algumas dessas pérolas são dignas de entrarem para a uma seleção antológica de bons argumentos ( “Se você fosse mulher senhorita Plimsoll, eu mesmo bateria em você.”) Em meio a momentos importantes do filme, Wilder desvia a atenção para as atitudes fanfarronas de seu advogado, entregando ao público que “Testemunha de Acusação” é menos um tenso filme sobre um julgamento de assassinato e mais um livre exercício que se assemelha, em alguns momentos, a uma comédia de costumes de apenas um personagem. Quando nesse contexto algumas peças parecem fora da engrenagem – a irritante enfermeira ou a testemunha do julgamento que se emociona – o austríaco se encarrega de colocar tudo nos eixos, relegando nosso sir Wilfrid ao segundo plano. Tente adivinhar o final: dificilmente esse caso será solucionado com antecedência, por mais que o filme nos leve a tirar conclusões. E uma frase de sir Wilfrid, antes do anúncio do resultado pelo júri, se encarrega de nos colocar a pulga atrás da orelha – e até mesmo a atuação de Tyrone Power, a mais fraca do elenco, começa a fazer sentido. Nunca subestime um gênio, principalmente se seu nome for Billy Wilder.
Eu deveria falar de Marlene Dietrich, que absorve toda a atenção nos momentos em que aparece, preenchendo a tela, mas seria chover no molhado. Ela é simplesmente magnífica, e ponto final. Como o filme.
( The Treasure of Sierra Madre, EUA - 1948 )
Direção de John Huston, com Humphrey Bogart, Walter Huston, Tim Holt, Bruce Bennett
 "Eu sei o que o ouro pode fazer à alma dos homens..."
"Eu sei o que o ouro pode fazer à alma dos homens..."
Como se pode falar em evolução do cinema quando falta tanta coragem nos tempos atuais para ser verdadeiramente autoral em um filme, e não apenas no quesito estético? Quando um filme é lançado fugindo um pouco do lugar comum, ou não se rendendo à clichês em seu final, ele logo é saudado como inovador, como surpreendente. Cineastas como John Huston faziam isso em praticamente todos os seus filmes. E não cola dizer que filmes como “O Tesouro de Sierra Madre” são pueris devido às reações de certa forma ingênuas de seus personagens em determinados momentos deste clássico de 1948. Encarado por alguns como uma aventura, por outros como um western, a história de Dobbs, Curtin e Howard é quase uma parábola, travestida em diversos gêneros. Um veículo para a genialidade de Huston e uma ode a um tempo onde o cinema era mais corajoso e as platéias pareciam ser menos afeitas à soluções fáceis.
Adaptado do romance homônimo de B. Traven, “O Tesouro de Sierra Madre” é um clássico que influenciou uma geração. Notadamente, cineastas como Scorsese, Lucas e Spielberg são fãs fervorosos da obra. Spielberg foi ainda mais longe: nos extras de “Os Caçadores da Arca Perdida”, admite que a criação de Indiana Jones carrega um pouco do Fred Dobbs de Humphrey Bogart. Quem conhece o primeiro filme do arqueólogo de trás para frente vai reconhecer ainda duas “homenagens” do cineasta ao filme de Huston: os sons dos animais nas florestas atravessadas pelo trio de “Tesouro...” e a risada de Dobbs em um momento crucial perto do final do filme foram recriadas idênticas na cena inicial de “Caçadores...”, reproduzindo os sons da floresta peruana e a risada de Belloq quando os índios hovitos partem atrás de Indy pela selva.

Não é difícil entender essa reverência. Mais do que uma aventura, um western ou qualquer gênero que queiram incluir, “O Tesouro de Sierra Madre” é fruto de uma época onde não era preciso apelar ao óbvio para imergir o público no coração da trama. Bogart é Fred Dobbs, americano miserável que vive em uma cidade mexicana à custa de esmolas, sem sorte, trabalho ou talento. Junto com outro desempregado à procura de uma chance, une-se a um velho, Howard, que passou a vida buscando ouro, para tentar a sorte em um garimpo perdido no deserto mexicano.
O roteiro do próprio Huston, fiel ao livro de Traven, pode apresentar os problemas citados acima de denotar uma certa urgência em determinados momentos, com reações inexplicadas e mudanças de temperamento súbitas de seus personagens, mas é um primor por não subestimar a inteligência do público – repare como, para mostrar o cansaço de Dobbs e Curtin, ele coloca o velho Howard tocando gaita ao lado dos dois, que sequer acordam. E a primeira aparição de Howard resume, em poucas palavras, não apenas o tema do filme como também a interpretação de Walter Huston, pai do diretor e merecido vencedor do Oscar de ator coadjuvante em 1949: o velho Howard explica como ganhou mais dinheiro do que poderia contar e, apesar disso, abriga-se num albergue para pobres. Usa o vício pelo jogo para explicar como o ouro pode matar um homem pela cobiça de sempre querer mais, e resume o sentimento em uma frase: “Tudo vai bem enquanto se procura pelo ouro. O problema para os homens é quando ele é encontrado.”

A coragem citada no começo do texto é a de não fazer concessões nem para o público nem para os personagens. “O Tesouro de Sierra Madre” é um conto sobre ambição, cobiça e loucura, personificados magnificamente por Humphrey Bogart, o retrato de um homem miserável por fora e por dentro. À medida que sua alma se envenena, seu aspecto físico externa esse sentimento, até tornar-se uma mera sugestão de um homem que, teoricamente, é extremamente rico e realizado na vida segundo seus planos. Na primeira parte desse ato de cobiça, Huston faz questão de mostrar que a moral de um homem pode suplantar essa ganância – Dobbs e Curtin surram um homem que lhes deve dinheiro em uma cena de luta extremamente realista até para os padrões atuais, mas pegam dele apenas o que ele lhes deve e devolvem o resto. É um comportamento que será testado ao longo de uma árdua jornada pelo interior do território mexicano dominado por bandidos, solidão e areia. Para demonstrar os efeitos dessa jornada, o diretor escancara closes de seus personagens e abusa dos contrastes da fotografia em preto e branco e dos acordes de uma oportuna trilha de Max Steiner, que varia conforme varia, também, o humor e as ambições dos seus personagens, com exceção de Howard. A expressão de indiferença do velho no aperto de mãos de Dobbs e Curtin mostra que será ele o elo de equilíbrio de uma jornada que, ele mesmo avisa, está fadada ao fracasso. Como o próprio Howard diz, há uma diferença entre os homens e suas prioridades. “Os bandidos o matariam pelos seus sapatos, não pelo seu ouro” diz ele, em certo momento, a um incrédulo Dobbs. No mundo árido deste clássico, a cobiça e a ganância são sentimentos destruidores mas tão frágeis quanto areia, que pode ser, literalmente, levada pelo vento.
 ( Witness, EUA - 1985 )
( Witness, EUA - 1985 )
Direção de Peter Weir, com Harrison Ford, Kelly McGillis, Danny Glover, Alexander Godunov, Josef Sommer, Lucas Haas
“John, esse é nosso modo de agir.
“Mas não é o meu modo...”
O cinema de Peter Weir é um estudo do choque entre forças contrárias. Do homem contra a natureza. Do homem contra a ignorância e o conservadorismo. Do homem contra o homem. “A Testemunha” coloca essa última “modalidade” enrustida em uma trama policial que, no fundo, é um estudo sobre a violência e sobre o convívio entre os homens. Mais uma vez, o protagonista dessa história é um homem isolado, perdido em um ambiente estranho, sofrendo o choque entre suas idéias e o novo mundo que o cerca e o assusta, ao mesmo tempo que o fascina neste caso.
Recentemente ouvi um comentário de um leitor em um dos muitos sites de cinema do Brasil de que “A Testemunha” era um filme “bom com uma história patética para um ator como Ford, com pouca ação.” Se o roteiro de William Kelley e Earl Wallace, vencedor do Oscar de roteiro original em 85, é construído em cima de uma estória patética, então toda minha visão sobre estórias e roteiros em cinema foi construída em cima de uma fraude. Passei mais de 30 anos envolto em uma ilusão.
Muitas pessoas enxergam em “A Testemunha”, filme de Peter Weir de 1985, indicado a oito oscars ( vencedor de dois prêmios ), um filme policial sem ação. O próprio comentário acerca de Ford mostra bem que, para muitas pessoas, filmes com Harrison Ford precisam ter ação. É o estigma de Indiana Jones que marcou a carreira do ator. Felizmente, não contribuiu para fracasso nesse caso. Custanto apenas 12 milhões de dólares, “A Testemunha” lucrou US$ 65 milhões só nos Estados Unidos.
“O que o garoto falou?
“Ele perguntou sobre seu nome. Disse a ele que não precisamos saber nada sobre você.”
Baseado em uma história dos próprios Kelley, Wallace e de Pámela Wallace, o premiado roteiro não deixa dúvidas, desde suas primeiras cenas, de que apesar do protagonista ser um homem da cidade, a alma dessa história é o ambiente onde ela se desenrola: uma comunidade Amish no interior da Pensilvânia. Os Amish são um grupo religioso cristão conservador que formou comunidades nos Estados Unidos e no Canadá, que mantém restrições ao uso de mordomias da vida moderna. Do outro lado está o detetive John Book ( Ford, indicado ao Oscar ), um policial acostumado a responder com violência e grosseria às necessidades de seu trabalho na cidade grande. No meio disso tudo, está o pequeno Samuel, filho de Rachel. Pouco depois de perder o marido, Rachel viaja com Samuel para a casa da irmã. No meio do caminho, em uma estação de trem, Samuel acidentalmente presencia um assassinato. Investigado por Book, o caso se complica quando Samuel reconhece um condecorado policial como autor do assassinato – e quando Book descobre que seu mentor está envolvido no caso e quer eliminá-lo.
“A Testemunha” não é um filme de ação. Toda a trama envolvendo Samuel, Rachel e John é mero pretexto para Weir inserir um homem no meio de um ambiente completamente diferente. John precisa fugir com mãe e filho, e os leva para casa. Ferido, é obrigado a permanecer em meio a uma comunidade conservadora, desconfiada e fiel às suas tradições. Com seus modos bruscos, seu linguajar rude, seu humor impaciente e sua violência, torna-se um estranho no ninho, que aos poucos troca a ironia e o pouco caso com que vê os modos dos Amish pela admiração.
Inicialmente, o roteiro era centrado na personagem Rachel e o choque com que ela via seu mundo ser invadido por um estranho. Weir percebeu que poderia explorar melhor a história do ponto de vista contrário: o choque de John ao sair da cidade e entrar em um meio completamente diferente. Esse choque é lembrado constantemente durante o filme. De parte dos Amish – logo após o assassinato, a câmera mostra mãe e filho abraçados no banco em segundo plano, enquanto dezenas de policiais e flashes passam na frente deles, dando o perfeito retrato de quão pequenos eles são naquele meio hostil. Já no interior, a rotina de John é alterada pela quietude, pelos gestos de amizade – mesmo do homem que corteja Rachel e o enxerga como uma ameaça – e pela cooperação. A cena da construção do celeiro, com 3 minutos sem diálogo algum, ilustra perfeitamente esse novo mundo que John conhece e que o faz esboçar um sorriso quando todos se dirigem para suas casas.
“Eu sei o que homens maus podem fazer. Eu vi....”
Como Weir cria um ambiente de tensão ancorado em diferenças e comportamentos, reflete nas cenas de ação muito do que se aprendeu, por exemplo, com nomes como Sam Peckinpah. Apesar de economizar no sangue, o australiano focou no realismo as cenas envolvendo o fim da perseguição dos policiais corruptos pelo paradeiro de John. É uma maneira muito mais eficiente de expor, pela crueza com que a morte, os tiros e a violência são encarados, toda a diferença entre esses dois mundos.
Mas se Weir escancara a diferença de culturas, também lança habilmente o jogo de sedução silenciosa que se dá entre John e Rachel. O misto de fascinação, desejo e proibição cria uma tensão sexual em todo o filme que consegue a proeza de não se render a clichês e ser autêntico, marcado pelo suor, pela luz de velas, ampliado pela ausência do uso de maquiagem na personagem de Kelly McGillis. É atração física e repulsão tomando conta de cada cena em que os dois atuam juntos. Tão grande quanto isso somente o fato de que, para John e o pequeno Samuel, bastam olhares para que, mesmo tão diferentes, ambos se entendam e criem uma relação fraternal comovente. Ela não precisa sequer de palavras complicadas quando o filme termina – tanto para Samuel como para Rachel. Sutileza é isso, e são poucos que têm tanto domínio dela quanto Peter Weir.
( Field of Dreams, EUA, 1989 )Direção de Phil Alden Robinson, com Kevin Costner, James Earl-Jones, Ray Liotta, Amy Madigan, Burt Lancaster
 Hey, dad, you wanna have a catch?"
Hey, dad, you wanna have a catch?"
Existe um campo de beiseball em Dyersville, no estado americano de Iowa. Ele é chamado "Field of Dreams" e o fato de ser um conhecido e procurado ponto turístico pode dar a dimensão de como este pequeno filme de Phil Alden Robinson tornou-se objeto de culto para milhares de pessoas. E mesmo que fale de um esporte tipicamente americano, o baseball, "O Campo dos Sonhos" é um filme que sobrevive apenas em seu entorno, não necessitando, assim, entender o jogo. Mais do que isso, o filme alimenta-se da paixão que o americano tem pelo beiseball - como nosso futebol para o brasileiro - para falar de temas bem mais caros ao público de qualquer lugar do mundo: de sonhos, de pais e de filhos."O Campo dos Sonhos" estabelece seu tema, seu ritmo e seu clima logo nos minutos iniciais. Ao som de um dos melhores trabalhos de James Horner, conhecemos a paixão do protagonista, Ray Kinsella, pelo baseball, como ele cresceu ouvindo histórias do esporte contadas pelo seu pai, a relação tumultuada e, de cara, somos jogados com o protagonista em um milharal de sua propriedade, no entardecer, quando uma misteriosa voz sussura: "Construa-o, e ele virá".
"...e a partir do momento em que um filme, qualquer que seja, consegue levar seu público por esse caminho, eventuais problemas de roteiro ou de lógica acabam ficando em segundo plano. Tudo o que importa é a capacidade dessa história conseguir manter o público cativo até o final."
O roteiro do filme de Robinson apoia-se na obra homônima de W.P. Kinsella. Já pelo sobrenome do autor do livro e do personagem principal, percebe-se que "Campo dos Sonhos" refere-se a uma experiência muito pessoal do escritor com questões como o amor pelo esporte e a relação com o pai. É esse o ponto central da história de Kinsella. Ao buscar desvendar o significado da mensagem misteriosa, Ray é levado por um impulso a construir um campo de baseball no milharal, arriscando as finanças da família. A idéia maluca é de que, no campo construído, o lendário jogador de baseball Shoeless Joe Jackson e sete colegas do Chicago White Sox, expulsos da liga em 1919, acusados de venderem resultados ( e todos mortos já ) retornarão para jogar. É através do bem construído roteiro do próprio Robinson capaz de lidar com idéias absolutamente fantásticas e fora da realidade, que o que poderia soar irreal para o público acaba se tornando crível. Não pela possibilidade de fantasmas aparecerem ou das visões, mas graças à empatia de Kevin Costner como Kinsella, em uma de suas melhores interpretações, o público simplesmente aceita a história como um convite à fantasia. Não importa a realidade ou a ficção deste conto fantástico: importa a maneira como somos transportados para esse mundo. E a partir do momento em que um filme, qualquer que seja, consegue levar seu público por esse caminho, eventuais problemas de roteiro ou de lógica acabam ficando em segundo plano. Tudo o que importa é a capacidade dessa história conseguir manter o público cativo até o final. Quando não consegue, tudo desanda. "O Campo dos Sonhos" consegue, e de forma maravilhosa. De quebra, presta bela homenagem a Burt Lancaster em seu último filme.
Para seguir um sonho louco, Ray coloca em jogo o futuro da família e da fazenda. Torna-se alvo de chacota e gozação dos outros habitantes da região, mas graças ao apoio da esposa e da filha, mantém-se firme em um propósito que nem ele sabe direito qual é. Perdido entre a fé e os problemas financeiros, a realizaçao de um sonho impossível - a chegada dos fantasmas dos jogadores mortos do White Sox - não consegue aliviá-lo de um sentimento que nem ele sabe qual é. Uma segunda mensagem, "Alivie Sua Dor" o levará a uma jornada em busca de um recluso escritor dos anos 60, influência de toda uma geração. Levará Ray, também, a uma viagem mágica no limite entre dois mundos. Será a tour de force da vida de vários personagens que se cruzam, todos com pendências que só poderão ser resolvidos em um campo de baseball, perdido em um milharal no interior de Iowa. E mesmo que Ray pense que tudo diga respeito aos personagens que ele encontra pelo caminho, todas as mensagens dirigem-se a alguém mais próximo a ele do que ele pensa.
"Não à toa o papel de Kinsella chegou a ser oferecido a Tom Hanks. É um papel que cairia bem, décadas atrás, a James Stewart. Requer cumplicidade com o público, e Costner se sai maravilhosamente bem. "
A frase que abre esse texto foi modificada pelo público. Nas exibições teste, o "dad" não existia na frase. O publico pediu que a menção ao pai fosse incluída. Poucas vezes na história do cinema houve, de forma tão direta, o apelo do público para que ele fosse levado à emoção. É exercício da democracia no diálogo entre platéia e tela batendo contra a máxima que muitos intelectuais têm de que o cinema, ao manipular os sentidos das platéias, torna-se um contrabandista de emoções. Esquecem que é justamente para exercitar essas emoções que o público se refugia no escuro de uma sala de cinema, ou no calor de sua casa. Não à toa o papel de Kinsella chegou a ser oferecido a Tom Hanks. É um papel que cairia bem, décadas atrás, a James Stewart. Requer cumplicidade com o público, e Costner se sai maravilhosamente bem. Não à toa, também, o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme. Não é feio render-se á emoção, não importa quantas justificativas técnicas existam para contrabalançar esse fato - o cinema é feito de emoção. E alguns filmes conseguem, não importa quanto passem os anos, manter o mesmo frescor da primeira vez que são vistos. Não se trata de descobrir novas perspectivas, novos segredos, novas mensagens escondidas. As mensagens de Campo dos Sonhos são simples, diretas, ingênuas e às vezes até clichês. Isso, no entanto, jamais impediu o que quer que fosse de ser verdadeiro.
O campo de Dyersville que se tornou ponto turístico é a fazenda que serviu de locação para a casa de Ray e o campo construído por ele. Os proprietários decidiram não modificar nada. Desde 1990, tem atraído milhares de curiosos e turistas, embalados pelo sucesso do filme, mesmo passados quase 20 anos de seu lançamento.
( Jaws, 1975 - EUA )
Direção de Steven Spielberg, com Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw
 “Tubarão” é um filme que tem assegurado seu lugar na história do cinema por dois motivos: o primeiro é comercial, já que o filme é um ponto chave na linha do tempo do cinema. Originou o termo “blockbuster”, criou o conceito de filme-fenômeno, gerou filas intermináveis em torno dos cinemas, foi febre no verão americano e deixou vazias as praias da Califórnia em 1975. Esta é a importância marcante para a história do cinema. Mas ele seria apenas isso, um ponto na linha do tempo, se não fosse, sobretudo, um filme espetacular que, mesmo datado na ambientação, no vestuário e no visual, sobrevive ( e sobreviverá ) ao tempo – e às sofríveis continuações e deturpações -por suas qualidades.
“Tubarão” é um filme que tem assegurado seu lugar na história do cinema por dois motivos: o primeiro é comercial, já que o filme é um ponto chave na linha do tempo do cinema. Originou o termo “blockbuster”, criou o conceito de filme-fenômeno, gerou filas intermináveis em torno dos cinemas, foi febre no verão americano e deixou vazias as praias da Califórnia em 1975. Esta é a importância marcante para a história do cinema. Mas ele seria apenas isso, um ponto na linha do tempo, se não fosse, sobretudo, um filme espetacular que, mesmo datado na ambientação, no vestuário e no visual, sobrevive ( e sobreviverá ) ao tempo – e às sofríveis continuações e deturpações -por suas qualidades.
Steven Spielberg não queria dirigir “Tubarão”. Ainda em começo de carreira, aceitou a incumbência funcionando mais como um operário do que, propriamente, um autor. Nem poderia: ele havia entregue apenas “Encurralado”, em 1972, feito para a TV, e um ano antes filmou “Louca Escapada” com Goldie Hawn. Já no tempo em que pisou no set de “Tubarão” Spielberg tinha em mente histórias mais avançadas sobre contatos alienígenas, mas não tinha ainda o cacife para bater na porta de algum estúdio querendo assumir a direção de filmes mais caros. Precisava ser um operário. Nesse ponto, “Tubarão” marca a carreira do diretor por ser, de certa forma, o filme de seu amadurecimento: pessoal e junto á indústria. Também marca o filme da virada para John Williams, que parece ter descoberto que os temas mais simples são aqueles que conquistam o público. Não por acaso, as músicas temas de “Star Wars”, “Superman” e “Indiana Jones” podem ser resumidas em poucas notas. Mas o que ele fez aqui é absurdo: uma repetição em nível crescente de duas notas conseguiu se tornar eterna.
Adaptado do best-seller de Peter Benchley, o filme da Universal foi um mar de problemas – desculpem o trocadilho infame – que marcou o amadurecimento de Spielberg em meio a problemas e dores de cabeça. Mesmo atuando como diretor contratado, percebe-se que havia na mente de Spielberg a inquietude de um jovem cheio de idéias. É essa fase do diretor que traz saudade, quando ele abdicava de simples planos para, com criatividade, criar novos conceitos. O que Spielberg fez em “Tubarão” é um misto genial de frescor visual – ainda hoje – com um roteiro absolutamente fabuloso. O frescor visual está na maneira como o diretor usa de sua câmera para tornar o espectador cúmplice do lado fraco nessa história. E o lado fraco na história do Tubarão que ataca um balneário californiano instaurando o terror é o chefe de polícia local, Martin Brody. Quando a situação torna-se insustentável, em pleno auge do verão, Brody parte com um perito, Matt Hooper, e um caçador, Quint, para matar o animal em alto mar.
O mérito desse citado frescor visual surge em cenas simples, como quando Brody está sentado na praia – e a câmera aproxima-se dele com cortes criados pela passagem de pessoas em frente a ele, denotando agilidade e tensão – ou no momento em que, aos poucos, ela acompanha o aumento da urgência com que o policial começa a se preocupar com o próprio filho (“Michael está no canal.” avisa a esposa dele, quando sabe que o tubarão foi visto no lugar.) É à medida que Brody começa a acelerar o passo que a câmera o acompanha, com a mesma urgência, em meio à multidão. Spielberg, ainda novo, também conseguiu unir esse trato visual apurado, fruto da experimentação de um jovem, com momentos em que o roteiro de Benchley e Carl Gottlieb proporcionam para aproximar o atormentado xerife da platéia ( a troca de gestos e olhares com o filho durante o jantar é um exemplo clássico ).
Mas por mais que o citado suspense com a aparição do tubarão – que na verdade foi fruto dos problemas com o animal mecânico criado para a produção, e acabou se tornando uma das melhores coisas do filme ( o tubarão aparece apenas depois de uma hora de filme e Spielberg trabalha a ameaça apenas com a sugestão ) – seja um dos mais alardeados pontos positivos do filme, está nos seus personagens o frescor que faz de Tubarão mais do que um bom filme de suspense, mas uma grande diversão. Pauline Kael chamou o filme de “perversa comédia”. Esse é o ponto que se manterá intocado, não importa em qual época o filme seja visto ou revisto. Ao comentar a observação de que era estranho um homem com medo de entrar na água ser xerife de uma cidade em uma ilha, Brody responde que “Só é uma ilha vista do mar.” Toda a sequência em que Quint fala sobre o USS Indianápolis é uma inteligente pausa no ritmo do filme que, em vez de quebrar a narrativa, prepara o público para o que está por vir e explica mais sobre o caçador turrão sem ser enjoativo, unindo – e esta é a proeza – tensão, suspense e até humor na seqüência ( e a forma como o roteiro parte do humor na comparação de cicatrizes para a soturna descrição de Quint é natural, como toda a narrativa). E a interação entre Hooper e Quint proporciona momentos notáveis. É uma disputa entre dois modos de ser e agir, mostrada com humor na cena em que Quint esmaga uma lata de cerveja e Hooper responde a ele esmagando um copo de plástico.
“Você vai precisar de um barco maior”, dita em um momento crucial do filme, resume também o sentido de “Tubarão” para a história do cinema. O cinema precisaria de telas maiores para poder absorver tudo o que essa obra-prima mantém, mais de 30 anos depois de lançada. Felizmente, uma edição especial em DVD caprichada, com extras preciosos, está disponível para quem quer entender melhor o processo, a época e o resultado final da construção de um clássico.
( Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull, 2008, EUA ) É difícil afirmar que seqüências inverossímeis são o problema do novo filme, afinal, elas existiam antes. Indiana Jones, em três filmes, passou por várias situações que só poderiam acontecer com o arqueólogo no cinema: sobreviveu a uma queda de avião e de uma cachoeira num bote inflável, a uma louca corrida nos trilhos de uma mina, foi perseguido por um avião dentro de um túnel... Mas essas situações não se comparam a, pelo menos, três cenas que reduzem a credulidade da platéia na nova aventura. Quando essa cumplicidade na ação é interrompida, algo se perde. A seqüência inicial poderia ter acabado pelo menos 5 minutos mais cedo para evitar uma cena desnecessária, e uma homenagem a Tarzan poderia ser evitada. Diferente dos filmes anteriores, “O Reino da Caveira de Cristal” é irregular – durante longos 40 minutos, o roteiro se preocupa em explicar a trama sem ser completamente convincente, como a justificar a própria história, algo que não precisava acontecer antes, afinal, os filmes de Indiana Jones sempre tiveram no seu roteiro simples e bem amarrado um de seus grandes méritos. E John Hurt está visivelmente deslocado como Oxley: um lugar na trama que estava reservado para Sean Connery, mas o escocês preferiu permanecer longe das telas. Em vários momentos, alguns cenários são artificiais demais. Por fim, mesmo utilizando a obrigatória e clássica “Raiders March”, John Williams não consegue criar um tema que identifique o novo filme, ao contrário do que aconteceu com os filmes anteriores – tanto é que os temas de “Caçadores...” e “a Última Cruzada” ressurgem no meio do filme em dois momentos nostálgicos que homenageiam os filmes anteriores e são imediatamente reconhecidos pelos fãs. Falta a “O Reino da Caveira de Cristal” essa identidade própria.
Direção de Steven Spielberg, com Harrison Ford, Shia LeBouf, Cate Blanchett, Karen Allen, Jim Broadbent, John Hurt

Se existe um problema em “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal”, ele é justamente aquilo que, no fim das contas, é a razão de sua existência: os filmes anteriores, já que em comparação com outros filmes do gênero, ele é muito superior. Por isso, não vá ao cinema buscando encontrar os filmes anteriores nesta quarta aventura. 27 anos depois de “Os Caçadores da Arca Perdida”, Lucas e Spielberg mostram que estão diferentes do que estavam em 1981, quando tentavam mudar o mundo através do cinema, realizando filmes ambiciosos e tratando o maior herói do cinema com seriedade, ainda que injetando humor. Centenas de milhões de dólares em contas pessoais e quase 3 décadas depois, os dois não precisam mais criar obras-primas, nem provar nada a ninguém. Apenas se divertir.
Já havia comentado na crítica a Os Caçadores da Arca Perdida que Indiana Jones foi sutilmente mudando sua personalidade ao longo dos filmes. O arqueólogo sério que conquistou o mundo na primeira aventura foi, aos poucos, tornando-se o herói de empatia ímpar com o público que convive entre a ação e o humor ( uma das razões de terem tornado o primeiro filme um clássico ). Mas isso não é ruim. O ano é 1957, e Indy, desssa vez, envolve-se em uma trama que envolve espiões russos e a busca por uma lendária cidade perdida na Amazônia, relacionada diretamente com um misterioso crânio de cristal cobiçado pelos russos. Quem o leva para essa aventura é o jovem Mudd Williams ( Shia LeBouf ) , que busca ajuda para resgatar um velho amigo, Oxley ( John Hurt ), ex-colega de Indy, que desapareceu buscando o artefato, junto com a mãe de Mudd, ninguém menos do que Marion ( Karen Allen ), namorada de Indy no primeiro filme da série.Indiana Jones voltou aos cinemas 19 anos depois de “A Última Cruzada” para divertir, e consegue fazer isso. A sensação que fica, porém, é que poderia ser melhor se Spielberg e Lucas encarassem seu herói com mais seriedade e menos como um brinquedo pessoal. Vou enfocar essa análise primeiro nos pontos negativos, e depois explico por que.
"Indiana Jones, envelheceu, mudou ou fomos nós que deixamos a nostalgia em algum lugar do passado à medida que crescemos? Como nós reagiríamos hoje vendo aquele bote inflável cair de um avião ou ver um coração ser arrancado de um peito e seu dono permanecer vivo? "
"Duas cenas e alguns exageros de CGI dispensáveis, um roteiro irregular, John Hurt deslocado e a falta de uma identidade à trilha sonora de Williams são os principais problemas de "O Reino da Caveira de Cristal"
Isso tudo torna o novo filme ruim? Não. Mesmo com os deslizes do roteiro, os diálogos e as tiradas impagáveis do herói continuam afiadas. Se a trama é fraca, ela também oportuniza a que Spielberg mantenha sua idéia de ligar a aventura a temas da época em que o filme se passe. Aqui Spielberg juntou as duas neuroses do cinema americano da época: o perigo comunista que tomou conta dos Estados Unidos e os seres do espaço. ( nos filmes B dos anos 50, na ficção científica, os invasores do espaço eram uma metáfora para o perigo comunista ). E ainda que soe estranho ligar Indiana a alienígenas, é bom lembrar que o personagem foi criado como um caçador de tesouros que se envolve com o fantástico, o sobrenatural e o religioso. Uma arca com fantasmas e poderes místicos, um sacerdote que arranca o coração das pessoas, um cálice que cura e dá vida eterna e um cavaleiro de 700 anos ainda vivo seriam o que, senão elementos do fantástico nas aventuras do herói? As pessoas parecem esquecer disso para lembrarem apenas do grande trunfo de seus filmes: o próprio Indiana Jones. E é essa a grande vitória de “O Reino da Caveira de Cristal”.
"O fantástico faz parte das aventuras de Indy. Uma arca com poderes místicos, um coração arrancado do peito, um cavaleiro de 700 anos ainda vivo e um cálice que dá a vida eterna seriam o que, senão elementos de pura fantasia?"
Mesmo problemas de roteiro e alguns exageros empalidecem quando Harrison Ford faz o que sabe fazer melhor: recupera o humor sarcástico, os trejeitos desengonçados e os feitos heróicos do personagem. E se os quarenta minutos de incontáveis explicações e ritmo irregular parecem empalidecer a aventura, como das outras vezes Spielberg liga o motor a partir de determinado momento e, com todos os elementos típicos de Indy e o domínio de espaço do diretor, o filme torna-se uma montanha-russa até o final ( com tudo que um filme de Indiana tem direito, desde os já citados exageros à seqüências acrobáticas e os indefectíveis tiros que não acertam ninguém ). A entrada de Shia LeBeouf como Mudd foi um tiro certo: o garoto tem talento e empresta vigor à aventura. O retorno de Karen Allen como Marion faz justiça à verdadeira heroína da trilogia, ainda que aqui ela seja, realmente, uma codjuvante que surge mais como homenagem do que como peça importante na história. Dizer que Cate Blanchett está caricata é esquecer dos caricatos Mola Ram de “O Templo da Perdição” ou do oficial nazista de “A Última Cruzada”. Com exceção de Belloq, em "Caçadores..." – e vou tocar na mesma tecla de justificar um dos motivos porque o primeiro filme é imbatível – todos os demais vilões são caricatos. Afinal, o grande astro da história é Indy.
"Quando Spielberg "aciona o motor", como nos filmes anteriores, é a sensação de embarcar em uma montanha-russa incessante e sair rodopiando do outro lado."
É por isso que comecei criticando os defeitos: porque no final, o que sobra é aquela velha nostalgia de ter andado em uma montanha-russa e saído rodopiando do outro lado. E quem lembra de avaliar defeitos depois disso? Talvez o final – o pior da série, quando os fãs esperavam algo mais dignificante – tenha colaborado para a sensação de muitas pessoas ao deixarem o cinema, que esperavam “que fosse melhor”. Mas ao final do filme a pergunta a se fazer é: valeu o ingresso? Porque se a idéia é diversão, Indiana Jones ainda é imbatível no quesito, não importe quantas imitações genéricas surjam ou quantas comparações se façam com o passado. Indiana Jones, envelheceu, mudou ou fomos nós que deixamos a nostalgia em algum lugar do passado à medida que crescemos? Como nós reagiríamos hoje vendo aquele bote inflável cair de um avião ou ver um coração ser arrancado de um peito e seu dono permanecer vivo?
O melhor de tudo é que as aventuras de Indy existem para sempre, não importe qual delas você goste mais. Se o novo filme, mesmo divertindo, não se iguala aos três filmes anteriores, ele não empalidece o grande objetivo desses filmes: ser diversão escapista como poucas vezes uma tela de cinema pôde ver – e um herói conseguiu ser.
PS: É provável que algo mude nessa crítica quando puder avaliar o filme melhor assistindo-o uma segunda vez, livre dos efeitos que uma espera de 19 anos pode causar...
Leia a crítica de "Os Caçadores da Arca Perdida"
Algumas das capas que surgiram na cena Coverart no mês de maio. Para quem não sabe, como colecionar DVDs se tornou onda depois da popularização dos discos, principalmente lá fora, onde o preço é de banana, o pessoal com conhecimento de causa no photoshop decidiu que não queria decorar as estantes com as capas das distribuidoras e preferiu colocar a mão na massa, criou templates, sites e comunidades para compartilhar imagens em alta resolução e trocar idéias. O que sai desses sites são arquivos JPG de alta resolução, com todos os anúncios legais, logos e extras do respectivo DVD, mas uma arte infinitamente superior ao que as distribuidoras empurram.
Quer ver? Olha só um exemplo do que saiu em maio para o pessoal fazer download, imprimir e substituir nas suas caixas de DVD: ( as contracapas acompanham a qualidade das capas criadas por esse pessoal. Algumas, usam pôster, outras modificam temas e imagens para criar seus próprios pôsteres. )

Veja mais no post completo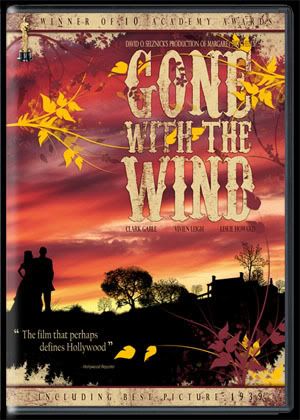




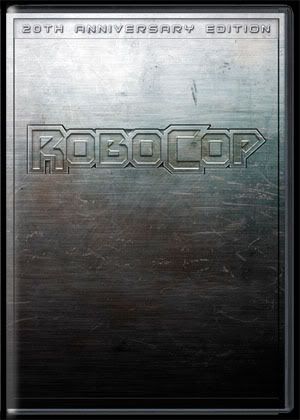
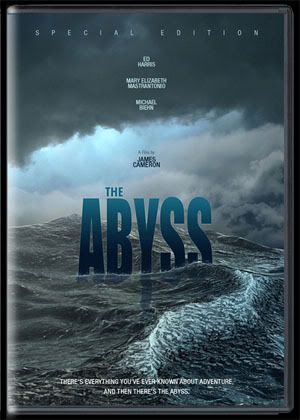

As principais comunidades, para quem quer se aventurar ( cada uma tem suas regras, o registro é livre, já o download depende das normas de cada uma )
http://www.replacethecase.com/
http://www.dvdtodvdr.net/ ( em português )
e o "informativo" da brincadeira, o VirtualAftershock, blog que reúne notícias e novidades do hobby e de cinema

Talvez o título seja exagerado, e a previsão seja uma furada. Mas basta uma olhada de leve no primeiro trailer de "Australia" para sentir um misto de "já vi isso antes" com "ainda bem que voltou." O cinema americano foi forjado na tradição dos grandes épicos românticos. A Era de Ouro dos anos 30 não ganhou esse nome senão pelo estrondoso sucesso de ...E O vento Levou. Assim Caminha a Humanidade, As Neves do Kilimanjaro, Doutor Jivago e outros não estão no imaginário popular por acaso. Pássaros Feridos não é provavelmente a minisérie de maior sucesso de todos os tempos apenas por ter Richard Chamberlain no auge da popularidade. O público, aquele para quem os filmes são feitos, gosta de se refugiar em um romance épico da mesma forma que fazia antigamente nas páginas dos livros do gênero. E mesmo os marmanjos com mais massa cerebral sabem reconhecer as virtudes quando elas aparecem. Dá pra começar a fazer isso no trailer ( mais abaixo )
À primeira vista pode parecer forçado. Basta uma rápida olhada na data de estréia do filme -metade de novembro de 2008 - para perceber a jogada esperta de marketing. os chamados "filmes de oscar" das produtoras são lançadas nos meses de novembro e dezembro, para ficarem mais "quentes" na memória dos votantes da Academia quando as cédulas chegam às suas casas, no começo do ano seguinte. "Austrália", novo filme de Baz Luhrman ( Romeu + Julieta, Moulin Rouge ) não está estreando perto do final do ano só por uma providência do destino ou planejamento das filmagens. Ele é "o" filme de Oscar da 20th Century Fox.
O que alimenta a esperança de quem esperava a volta desse estilo de épico romântico - e se frustrou com "Cold Mountain", que prometia ser esse filme anos atrás - é o fato de Baz Luhrman estar na direção. E a certeza de que o diretor, mais do que um mero operário de fórmulas, costuma criar as suas próprias e ser fiel ao seu estilo.
O primeiro trailer, no entanto, parece mostrar que Luhrman, se mantém algumas características peculiares do seu estilo visual e narrativo, cedeu à tentação - e quem disse que é ruim? - das grandes panorâmicas, dos movimentos de câmera em grua, das silhouetas ao pôr do sol, da fotografia "á la David Lean" na história da aristocrata inglesa ( Nicole Kidman ) que herda uma grande extensão de terras na Austrália durante a segunda guerra mundial. enfrenta a resistência de grandes donos de terra do país e atravessa terras hostis levando 2000 cabeças de gado na companhia do cavaleiro interpretado por Hugh Jackman. Luhrman já fez Ewan McGregor ter química com Kidman, e ao que parece, fará o mesmo com Jackman.
Luhrman parece ter cedido à tentação do grande épico... que beleza. Que venha novembro.
PS: Não encontrei referências à trilha sonora, portanto não sei se a trilha do trailer é a do filme. Caso alguém saiba, agradeceria a informação. Abaixo segue um vídeo de bastidores com o fotógrafo da produção e o primeiro trailer.
(JFK, EUA, 1991 )
Direção de Oliver Stone, com Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Joe Pesci, Jack Lemmon, Walter Matthau, Donald Sutherland, John candy, Sissy Spacek, Kevin Bacon, Martin Sheen, Michael Rooker

Oliver Stone tinha uma necessidade urgente quando decidiu levar em frente a idéia de reconstituir o assassinato de John Kennedy para expor sua teoria sobre a conspiração que envolveu refugiados cubanos, a CIA e membros do próprio governo americano na morte de JFK: ele precisava de um James Stewart.
Explica-se: na primeira metade do século, James Stewart era o rosto do ideal americano, o tipo de ator que jamais marcou sua passagem nas telas defendendo um vilão ou alguém controverso. As comédias de Frank Capra o tornaram o exemplo máximo do cidadão ideal. Alguém em quem você podia confiar. Alguém que você sabia que dizia a verdade.
Era de um ator que passasse essa imagem que Stone precisava para dar veracidade a JFK, afinal, ele pretendia convidar o público a passar três horas seguindo a investigação do promotor de New Orleans Jim Garrison, que decidiu, anos depois, reabrir o caso do assassinato do presidente americano em Dallas, em 1963, defendendo a teoria de uma conspiração, de mais de um atirador e apontando as absurdas falhas da comissão Warren, que investigou o caso e culpou unicamente Lee Harvey Oswald pela morte de Kennedy. Stone chegou em Kevin Costner após ter ouvido respostas negativas de Harrison Ford e Mel Gibson. Ford, notoriamente, por não querer atrair a discussão política que o filme iria atrair – e atraiu.
A Entertainment Weekly o elegeu o 5º filme mais controverso de todos os tempos. Bobagem. O tema é caro aos americanos, mas não abre nenhuma ferida polêmica. A teoria da conspiração é defendida por muita gente. Fosse tão controverso, a academia não o indicaria a oito oscars em 1992, incluindo filme e diretor. Levou dois, fotografia e montagem. E, diga-se de passagem, é a montagem o grande astro de JFK – A Pergunta que não quer calar.
Tendo Costner à frente – e Costner significava Elliot Ness, e Costner era o bom moço da época no cinema americano, e Costner, por fim, era o ator que rompeu barreiras para, dois anos antes, tomar conta do Oscar com Dança com Lobos – Stone cercou seu astro com um elenco de primeira classe, distribuiu-os em papéis secundários – Jack Lemon e Walter Matthau fazem dois papéis sérios, e surpreendem – e simplesmente parece ter passado suas neurosas para o elenco. Tudo, absolutamente tudo em “JFK” é uma acusação. Ou melhor várias. O filme em si é um filho muito particular de Stone, onde ele alterna cenas e fotos reais com uma meticulosa e assombrosa reconstituição de época para desfilar suas teorias, endossadas pelos livros Crossfire: The Plot That Killed Kennedy, de Jim Marrs, e On the Trail of the Assasins, de Jim Garrison. Os 24 pesquisadores que auxiliaram no filme não fariam muita diferença se fossem apenas 2: Stone filmou “JFK” para ser extremamente parcial. Se consegue capturar a indignação do público com algumas atrocidades da investigação, também transforma seu filme em uma espécie de “jornalismo literário” das telas: recria cenas, diálogos e situações que ninguém sabe como ocorreram, muitas vezes baseado em depoimentos extremamente controversos de testemunhas. Mas na soma geral, ainda que neurótico no todo, “JFK” traz mais inquietações do que invenções. Se o objetivo de Stone era deixar público seu inconformismo, conseguiu com sobras.
Mais famoso por suas incursões ao mundo que vivenciou na guerra do Vietnam (Platoon, Nascido em 4 de Julho), Stone entrega, possivelmente, seu filme mais bem acabado tecnicamente. Ainda que pomposa em excesso, exalando um certo americanismo ufanista em seus acordes, a música de John Williams funciona muito bem, especialmente nas cenas de reconstituição dos fatos que aconteceram em Dallas, em 63. A fotografia de Robert Richardson consegue unir-se à reconstituição de época, cortesia de Victor Kempster, para construir um cilme de anos 60 baseado na iluminação de fotos e filmes da época. Mesmo em cores, a iluminação parece granulada, mal definida, mas extremamente bem feita. E finalmente, a montagem de Joe Hutshing e Pietro Scalia é a alma, o cérebro e o coração de JFK: sem ela, a narrativa repleta de informações ao longo das 3 horas se tornaria extremamente chata, mesmo conduzida por grandes atores – e Costner nem sempre convence como Garrison, principalmente nas cenas em que demonstra inconformismo e frustração, ao contrário de Oldman, o grande nome do filme como Oswald. Alternando imagens rápidas, cenas de arquivo, fotografias, efeitos, cores e cinzas para seguirem no ritmo certo o roteiro, os dois conferem a autenticidade, mesmo perigosa e por vezes manipulada, que é o centro de “JFK”.
Por ser um filme longo, fruto da vontade de Stone em destilar o maior número possível de acusações e fatos – acreditem, a versão do diretor tem 70 minutos a mais, completando 260 de duração - e repleto de informações, tem sido esquecido. Quando não por isso, é acusado de ser “muito americano”. Pena que essas idéias acabam empalidecendo a grande vitória técnica e narrativa que sustenta o filme, que no fim sobreviverão mais ao tempo do que qualquer sentimento ufanista que o tenha motivado.

O primeiro cartaz de "The Happening" já havia me chamado a atenção. Como brinco com Coverart e Photoshop, costumo prestar atenção à arte. É superior a este segundo, que vi hoje no Cinema em 1ª Pessoa. Sobre Shyamalan, devo ser um caso à parte, ou pelo menos parte de uma linhagem que procura se manter nas sombras: sou fã de carteirinha do Indiano. Que pese sua mania de grandeza, que ajudou a destruir a reputação que ele contruiu depois que "Lady in the Water" se tornou o desastre que se tornou.
..
A grande maioria - críticos e público - consideram "O Sexto Sentido" sua grande obra-prima. Não discordo. Mas tenho um ponto de vista radicalmente diferente da grande maioria do público. Ou eu vi algo que a maioria não viu, ou sou um delírio ambulante, afetado pela admiração ao estilo de Shyamalan. Considero "Sinais" o seu grande filme, sem tirar nenhum mérito do suspense sobrenatural que marcou a estréia dele nos Estados Unidos. O grande problema é que "Sinais" foi vendido errado. O público comprou uma história de invasão alienígena, e esperava uma resolução do tema semelhante a outros filmes do estilo. Se decepcionou, não porque o filme seja fraco, mas porque foi ao cinema com uma expectativa que se frustrou. "Sinais" não é sobre invasões alienígenas, o tema é um mero background. "Sinais" é sobre fé, sobre destino e sobre os sinais que estão à nossa frente, todos os dias, apontando o caminho. Os sinais nas lavouras são uma brincadeira dando o duplo sentido ao filme que, embora brilhante, ajudou a passar a idéia errada. Ainda volto ao filme numa crítica mais completa, porque a cada vez que assisto, descubro novas coisas que me fazem admirar ainda mais Shyamalan.
Como me coloquei no grupo dos excluídos, devo dizer que gostei de "A Vila", apesar de achar irritante o fato de Shyamalan julgar que precise criar surpresas para os finais de seus filmes e surpreender o público sempre. Ele foi mais prepotente em "A Vila" do que em "A Dama na Água", malhado por todos e que, sinceramente, assisti na boa. É o mais fraco dos seus filmes, sim, mas também o menos prepotente e, talvez, o mais sincero. Pena que tenha faltado uma capacidade de dialogar melhor com o público. E ainda acredito que, um dia, "Corpo Fechado" será reavaliado com mais carinho.
Resta esperar "The Happening". Como sempre, o trailer é de roer as unhas de antecipação. Mas conhecendo Shyamalan, prefiro não criar expectativas e, simplesmente, embarcar na viagem. Não digo deixar que ele me surpreenda, mas imagino que haja mais mensagens por trás dos estranhos acontecimentos do novo filme do que simplesmente uma catástrofe mundial. Para apreciar Shyamalan, é preciso aprender a conhecer Shyamalan. Não exatamente amar ou odiar... mas aprender a ver.
Um pequeno preview

No post anterior já havia explicado que a idéia de relembrar o western partiu do pessoal do Multiplot. Considerado "o" gênero americano - e endeusado pela trupe da Cahiers - os filmes do gênero sempre passaram uma idéia simplista ao povão: o próprio título "bangue-bangue" da cultura popular resume isso. Mas é tudo:? Longe disso. Os westerns-spagetthiu de Leone trazem muito mais por trás do que simplesmente pistoleiros solitários e de poucas palavras. Alguns títulos de Ford e Hawks usam de matizes clássicas do gênero para falarem sobre discriminação racial, conflitos psicológicos e demônios interiores. Anthony Mann, um dos mais subestimados diretores do gênero, fez isso também, e Sam Peckinpah usou da violência para rever o gênero de um ponto de vista bem mais realista e abatido.
Como cada um mereceria uma visão própria, a hora agora é de, simplesmente, relembrar o gênero americano por excelência...
1860 - 1890.
Nenhum período tão curto da história recebeu, até hoje, tanta atenção. Apenas trinta anos serviram de inspiração para o surgimento daquele que é o mais americano dos gêneros - segundo a crítica francesa, talvez o único gênero genuinamente americano. Durante esses trinta anos ocorreu a fase áurea de expansão colonialista dos Estados Unidos em direção ao oeste de seu próprio território. Um período curto, marcado pelo surgimento de lendas e pela bravura trazida pelo tema do desbravamento e do colonialismo - uma nova terra surgia das mãos dos trabalhadores e dos homens de coragem.
Era uma terra árida, desértica, selvagem - destinada aos fortes. Foi um tempo onde se espalharam os feitos de coragem e covardia de homens que entraram para a própria história americana. Nomes como os do xerife Wyatt Earp e de Bufalo Bill, personagens reais que inspiraram diferentes versões de suas histórias para o cinema.
Foi exatamente o cinema que logo percebeu as possibilidades de se aproveitar toda a magia vinda das histórias da expansão para o oeste - O Grande Assalto de Trem, de Edwin S. Porter, pode ser considerado o primeiro policial do cinema, e também o primeiro western. Alguns dos primeiros heróis do cinema foram os caubóis, mudos ainda, mas já corajosos no manejo de uma pistola - Tom Mix e William S. hart fazem parte destes heróis precursores, além do próprio Bufalo Bill em pessoa.
Colonização do oeste, na época, significava levar o progresso e as leis da civilização a uma terra bárbara, que reagia aos bons mocinhos com grande hostilidade. Os índios eram tratados como povos brutos e violentos - monstros bárbaros combatidos pela intrépida cavalaria. Essa visão turva prevaleceu durante praticamente toda a grande fase do western, que durou, de uma maneira mais precisa, de 1939 até 1969 - trinta anos, exatamente igual ao período que registra o gênero.
Coinscidentemente, foi justamente com um filme que louvava essa mesma visão que o gênero tornou-se grande no ano de 1939. Várias já eram as produções baratas do gênero, exibidas a toque de caixa nas matinés, com enredos simples - The Covered Wagon ( 1922 ), de Raoul Walsh, chegou a chamar a atenção, mas logo o estilo seria jogado de novo na vala dos filmes comuns. Críticos atribuem à grande depressão com a crise de 29 o fato do g~enero ter demorado tanto a agradar o público, que durante um bom tempo preferiu filmes leves, urbanos, que os fizessem sonhar com uma vida melhor e os caubóis empoeirados e com roupas rasgadas não eram bem o objeto dos sonhos dos americanos- mas quando John Ford lançou "No Tempo das Diligências" em 38, o western tornava-se um gênero respeitado. O filme, clássico inquestionável, tinha como herói um ator que já havia feito diversos filmes B de aventura para pequenos estúdios - John Wayne, que havia estrelado o filme de Walsh em 22 - e trazia, então, um dos temas mais caros ao gênero: a história da carruagem que cruza o oeste e é surpreendida por um violento ataque de índios.
John Ford reinaria no gênero desde então - mas não de forma absoluta - com uma série de obras-primas. Dividiria o posto com cineastas como Howard Hawks ( o único a fazer frente a ele ), Henry King, John Sturges, William Wellman, Sam Peckinpah e Sergio Leone, entre outros. O gênero foi visitado por diretores acostumados a pisarem em outros gêneros, e de forma deslumbrante, como fizeram, entre outros, Fred Zinneman e George Stevens.
Os anos 40, que viram a aurora do gênero, testemunharam os grandes westerns de ação. William Wellman lança em 43 "Consciências Mortas". Três anos depois, é a vez de John Ford lançar um clássico, "Paixão dos Fortes" - história do mítico xerife Wyatt Earp, segundo Ford, ouvida da boca do próprio Earp. E o próprio Ford lançou, em 48, "Forte Apache" e 49, "Legião Invencível ". No primeiro, teve Henry Fonda. No segundo e no terceiro , John Wayne, seu ator preferido e presença constante nos seus maiores filmes ( aliás, nos grandes filmes do gênero também com outros diretores ).
Já lançada na platéia e gravada a figura mítica do xerife - essencial para a manutenção da paz numa época de transgressão e dificuldades em manter a lei - os anos 50 trataram de trazer ao cinema a consolidação e os anos de ouro do gênero, que viu-se dividido em dois estilos: o filme de ação e o western psicológico.
Os grandes westerns de ação da época, entre dezenas de produções baratas que fácil aceitação entre o público - um tema de fácil realização e pouca diferença em seus argumentos - são produções que, por um motivo ou outro, diferenciaram-se da produção em geral graças á qualidade de seus realizadores; "Os Brutos Também Amam" ( 1953 ), de George Stevens - o pistoleiro misterioso que chega do nada para mudar uma pequena cidade atormentada por um assassino - "Matador" ( 1950 ) de Henry King - o tema do pistoleiro mais rápido que todos, tendo sempre que provar seu valor a quem o desafia - " Vera Cruz" ( 1954 ) de Rober Aldrich - dois homens contratados para escoltar uma carga, e que decidem roubá-la - "Sem Lei, Sem Alma" ( 1957 ), de John Sturges - mais um filme sobre a vida de Wyat Earp e o duelo lendário contra os irmãos Clanton no Curral OK e "Da Terra Nascem os Homens" ( 1958 ) de William Wyller - western épico que tem na disputa pela terra sua motivação principal.
Os westerns psicológicos, por sua vez, traziam outras preocupações além da ação. Uma construção psicológica mais bem pensada de seus personagens proporcionava dramas humanos em meio aos tiros e mortes. Talvez o primeiro deles tenha sido "Rio Vermelho" ( 1948 ) de Howard Hawks, onde John Wayne interpreta um caubói desafiado pelo próprio filho adotivo ao levar um rebanho de gado do sul. O embate entre pai e filho permeia a trama, já descrita como uma "ópera a cavalo". Os anos 50 viram a consolidação do estilo com clássicos do porte de "Matar ou Morrer" ( 1952 ) de Fred Zinneman, "Johnny Guitar" ( 1954 ) de Nicholas Ray e "Onde Começa o Inferno" ( 1958 ) de Howard Hawks. Curiosamente, Matar ou Morrer e Onde Começa o Inferno oferecem visões opostas: no primeiro filme, Gary Cooper é o xerife que pede auxílio para enfrentar um bandido mas é ignorado e abandonado por todos na cidade. Howard Hawks não admitia isso e em resposta filmou "Onde Começa o Inferno", em que John Wayne é o xerife que recusa qualquer ajuda para enfrentar bandidos em superioridade numérica. O maior de todos, sem dúvida, veio das mãos de John Ford, em 1956. Em sua maior atuação, John Wayne transformou o personagem Ethan Edwards no maior retrato de solidão, amargura e obstinação no insuperável Rastros de Ódio - western denso e sombrio sobre a busca incansável de um homem atrás da sobrinha raptada por índios comanches.
Os anos 60 viu nascer uma corrente fora dos Estados Unidos, de produções baratas que fizeram grande sucesso pelo mundo - o chamado western-spaghetti. O diretor Sergio Leone e o ator clint Eastwood foram os nomes que mais fama fizeram, mas nomes como os de Giulianno Gemma e Franco Nero também tornaram-se famosos. Leone e Eastwood alcançaram grande êxito com um western mais satírico que o tradicional de Ford e Hawks, sempre com a trilha sonora de Ennio Morricone e, constantemente, a figura do estranho sem nome - comum a todo o western-spaghetti, de forma geral. Em "Por um Punhado de Dólares" ( 64 ) o diretor fez alusão ao clássico Yojimbo, de Akira Kurosawa. Iniciou também uma trilogia, completada com "Por uns Dólares a Mais" (65) e "Três Homens em Conflito" (67), o melhor deles - que trouxe, de quebra, um dos mais famosos temas musicais do gênero.
Nos Estados Unidos, é o começo do fim para um gênero genuinamente americano. John Sturges faz uma homenagem a um clássico de Akira Kurosawa - o diretor japonês sempre foi fonte de inspiração para o gênero, apesar de, assumidamente, inspirar-se neles para fazer seus filmes - em 1960. "Sete Homens e um Destino" inspira-se em "Os Sete Samurais" e faz sua própria história. Tornou-se um dos grandes westerns do cinema e trouxe a mais conhecida de todas as trilhas musicais - um tema para o próprio gênero. Em 63, Henry Hathaway, George Marshall e John Ford dirigiram o ambicioso "A Conquista do Oeste" - o título diz tudo - com um elenco de astros. Em 61, Marlon Brando teve sua única experiência na direção, com um western psicológico, "A Face Oculta". Ao longo da história, outros nomes de peso deixaram suas marcas no gênero, como King Vidor em "Duelo ao Sol" ( 1946 ) e o próprio John Wayne dirigindo, em "O Álamo" ( 1960 ). Em 69, Wayne receberia enfim o Oscar merecido por uma brilhante carreira com "Bravura Indômita", pouco antes de morrer.
Parecia que o western previa seus últimos instantes de genialidade. No mesmo ano da premiação de Wayne, herói maior do cinema americano, surgiam as três últimas obras-primas a encerrarem um ciclo na história do cinema. "Butch Cassidy" de George Roy - Hill - western alegre, descompromissado e movimentado com Paul Newman e Robert Redford - "Meu Ódio Será Tua Herança" - apologia ao próprio fim do gênero dirigida por Sam Peckinpah, contando a história de veteranos bandidos aplicando seu último golpe - e "Era uma vez no Oeste" - obra-prima máxima do diretor Sergio Leone trazendo um dos mitos do gênero, Henry Fonda, pela primeira e única vez no assustador papel de vilão.
Os anos 70 teriam tentativas frustradas de fazer o gênero retornar aos bons tempos. Os dois únicos filmes que conseguiram alguma atenção foram filmes comprometidos socialmente com a lembrança dos verdadeiros donos do território invadido pelo homem branco. A defesa dos índios como seres humanos e não meros inimigos hostis e selvagens chegou com força em "O Pequeno Grande Homem" ( 1970 ) de Arthur Penn e "Um Homem Chamado Cavalo" ( 1970 ) de Elliot Silverstein, com marcantes desempenhos, respectivamente, de Dustin Hoffman e Richard Harris. A premissa, no entanto, não era nova. O precursor no estilo foi "Flechas de Fogo" ( 1950 ), de Delmer Daves, com James Stewart - outro mito do gênero que compôs com o diretor Anthony Mann grandes obras como "Winchester 73", de 1950 - Stewart estrelaria grandes clássicos de outros diretores também, como "O Homem que Matou o Fascínora" ( 62 ) de John Ford. foi nesse filme que o personagem de Edmond O'Brien disse a frase que norteou a própria carreira de Ford: "Quando a lenda é mais interessante que a realidade... imprima-se a lenda".
Dos grandes mestres, apenas Sam Peckinpah resistiu nos anos 70, com "Pat Garret & Billy the Kid", de 73. Mas o gênero já agonizava. Prova da dificuldade ocorreu com "O Portal do Paraíso"
( 1980 ) de Michael Cimino, o maior fracasso comercial da história do cinema, que faliu a United Artists. Silverado ( 85 ) de Lawrence Kasdan, ainda trouxe algum sopro de vida ao gênero - mas ele carecia, então, de novas idéias num cinema já completamente voltado aos efeitos especiais e ao apelo comercial.
Em 1990, Kevin Costner descobriu o potencial do western como filme épico e fez de "Dança com Lobos" - um hino pacifista em favor da cultura indígena - o grande vencedor do Oscar com 07 prêmios, incluindo melhor filme e direção. Abriu uma porta para o renascimento do gênero. A vitória no Oscar, em 92, de "Os Imperdoáveis" de Clint Eastwood mostrou que ainda havia muito o que explorar no gênero. Um dos seus maiores mitos provocava neste filme a desmistificação de vários de seus postulados ( não existem heróis ou vilões e todos tem seus erros a confessar e a pagar ). A partir de então vários filmes invadiram o mercado: "Maverick", "Quatro Mulheres e um Destino", "Wyatt Earp", "Tombstone", "Lendas da Paixão", "Newton Boys". Alguns com alguma qualidade, como o mal avaliado e mal recebido "Wyatt Earp" de Lawrence Kasdan... ou a ótima aventura proporcionada por "Tombstone" de George Pan Cosmatos - ambos contando a mesma história clássica do xerife Wyatt Earp. Mesmo que sem a mesma consistência, qualidade ou periodicidade de antes, o gênero americano tem reaparecido para uma sobrevida com releituras interessantes. "Os Três Enterros de Melquiades Estrada", "Os Indomáveis" e "O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford".
No fundo, o gênero permanece o mais americano e legítimo de todos que já trouxeram personagens de carne e osso - ou icônicos - para povoar as telas do cinema. Que viva para sempre...
- Posts Relacionados:
Rio Vermelho
Tombstone